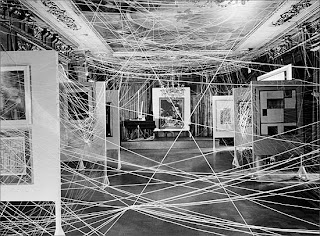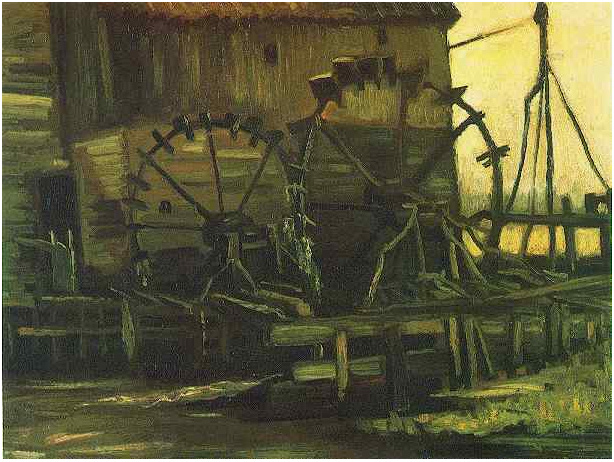Noutro dia sentei-me (estava de pé) - podia estar deitado -, sentei-me e pensei. Pensei na chuva, nas rosas murchas e nos beijos vermelhos perdidos. Disparei na direcção contrária e fiz da minha escolha arbitrária. Fui do contra, sempre fui, sempre sou (às vezes inconveniente). Mas é assim, um velho sentado no sofá, na poltrona, a olhar pela janela. Já conquistei o mundo. Agora sonho, sentado na poltrona, pregado à parede. Sacrifiquei-me pelos meus pares, fui sacrificado pelos meus pares. Nada me deram em troca - também não lhes dei grande coisa eu próprio. Que havia de dar? Não tenho nada e mesmo que tivesse, não tinha.
Disse noutro dia ao Mário que nada disto fazia sentido, que era absurdo e ridículo. Ele não fez caso, disse-me para beber mais um copo. Assim fiz. As tardes agora são longas, não voltámos a falar sobre isso.
Os carros passam em frente de mim e fazem barulho ao percorrer o asfalto molhado. Cheira a Inverno. Aqui em Amesterdão as tardes de Inverno estão envoltas num marasmo quase inexplicável. E depois as dialécticas no jardim. As conversas à sombra do choupo. (Não falamos de nada, a verdade é essa, mas é agradável.)
Eu até nem me importo (muito) de ser ignorante - toda a gente tem as suas limitações.
A minha mãe gostava que eu tivesse sido médico, uma profissão a sério, daquelas que dão dinheiro e tudo!, mas sou poeta. Será que sou? Sei que o dinheiro mal me chega para as despesas, por isso, se não sou, ao menos já estou mais perto. Mas não interessa, ser poeta nem sempre é escrever. Aliás, é, na maior parte das vezes, pensar. Viajar com a mente e sonhar. (Por vezes até é ser médico, talvez até ter uma profissão a sério. Mas tudo isto apenas com a mente, a sonhar, claro.)
A vida em Lisboa é calma, feita de tertúlias com amigos, de bicas na esplanada... A casa é pequena mas dá para mim, vivo sozinho e desarrumado, gosto assim.
Uma vez fui a Barcelona, trabalhava num bar, e, por vezes, até tinha amigos. Outra vez estive num templo no Tibete, a vida, toda ela, era calma e serenidade, elevação e sabedoria. Mas isso foram outras vidas que nunca existiram, ou se existiram, não me lembro. A minha cabeça já não é como era no antes. Do antes lembro-me cada vez menos.
A morte não é boa nem má, nem poderia ser qualquer uma das coisas, pelo menos para quem morre. Mas a verdade é que gostava de ter mais tempo. Não sei para quê, essa é a verdade, mas gostava. Pronto, depois não há nada. É difícil, ou impossível - pelos menos quase - imaginar a não-existência. É estranho ser e pensar no oposto.
Bem, mas nada disto servirá do que quer que seja depois da morte. Quem sou eu para discutir este tipo de assuntos? Sou apenas um poeta, não tenho esse direito, mas a verdade é que algumas imprudências são permitidas a um velho.
Claro que a morte é má, ou não, e mesmo que o seja é-o apenas de maneira negativa, por oposição ao que havia antes. E quando a senhora chega, todas estas preocupações desaparecem.
Nem Lisboa, nem Amesterdão, nem Barcelona nem Tibete. Talvez até, nem eu.
É isto, estou cansado e não tenho paciência para nada, estou velho (acho que é isso que os velhos fazem). O mundo não foi feito para pensadores. Os ignorantes conseguem ser muito mais felizes. Mas de que vale isso, a "Felicidade"? Toda ela de sorriso estampado no rosto e toda bem-disposta a cumprimentar as pessoas pela manhã.
- Olá!
- Bom dia Felicidade. Como está?
- Feliz! (Ora pois.)
E é sempre assim, sempre isto. Nuns dias aparece para me cumprimentar, noutros nem por isso. Será que sinto mesmo falta dela? Será que existe ou que tenho sonhado nuns dias mais do que em outros? (A verdade é que ela sempre me pareceu demasiado feliz, a Felicidade. E sendo eu um céptico, talvez deva desconfiar...)
Mas as folhas do Outono já caem, molhadas, no chão. Castanhas, amareladas, com aquelas cores de folha no Outono. E o jardim está vazio. Em frente ao velho edifício de pedra não há ninguém. Será que sou realmente velho? Tenho barba branca, estou cansado, já vivi uns quantos anos, muitos anos, que na verdade são poucos - pelo menos para mim. Mas será que sou velho? Posso estar apenas a ter uma crise de fatalidade.
Não sei, adormeci no banco do jardim. O sol primaveril aquece-me o rosto. Vou para casa.